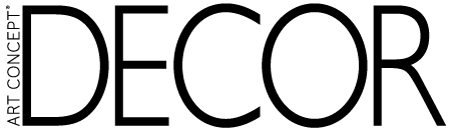Nascido em Araucária, Paraná, Max Kampa demonstra toda a experiência de pouco – mas árduo – tempo de trabalho, quase todo assinando sob marca Ventura Lab. Aos 29 anos, o paranaense residente em Curitiba tem designs premiados no Brasil e no mundo. Formado em Design de Produto pela UFPR – mestrando pela mesma instituição -, com passagem pela Politécnica de Milão, Kampa tem cabeça no alto e pés no chão.
Há alguns anos criou o estúdio Ventura Lab com o amigo de faculdade e de trabalho, Giuliano Perretto, quando – por sugestão do proprietário da empresa em que trabalhavam – precisaram assinar seus produtos. Perretto deixou o estúdio há dois anos para investir em outra arte: a fotografia (é ele quem clica a maior parte dos produtos de Kampa). Assim, Max Kampa seguiu no Ventura Lab, mas agora em voo solo.
REVISTA DECOR – O estúdio tem um Q – ou talvez todo um alfabeto – de minimalismo. Você tem alguma inspiração, ou um “ídolo” desse estilo? E no design, de maneira geral?
MAX KAMPA – Essa questão da relação do Ventura Lab com um suposto minimalismo é interessante. No início do estúdio, a busca por um “estilo” que trouxesse uma unidade e uma identidade para o estúdio foi importante. Claramente, era perceptível o nosso interesse por objetos mais “limpos” visualmente, e por conta disso, optamos por adotar essa linguagem nos objetos. Atualmente, com mais maturidade profissional, somado à minha experiência com a pós-graduação (especificamente com a área da história do design), procuro evitar essas rotulações. A história canônica do design é repleta de tentativas de definir objetos por meio de questões formais, de estilos. Acredito que esse foco acaba deixando de lado questões mais relevantes para o design, como o uso desses produtos, a relação que os usuários estabelecem com eles, e o próprio papel social do design.
Obviamente, tudo aquilo que desenhamos/produzimos possui uma forma, e eu confesso que tenho uma conexão com esse desenho mais limpo, que parece mais “básico”. Mas acredito que, no meu caso, não se trata de estabelecer diálogo com estilos específicos, mas sim, uma tentativa de estabelecer hierarquias no objeto. De simplificar algumas coisas para (tentar) direcionar a atenção do usuário a outras. Certamente, nós designers não temos esse controle sobre a maneira como os nossos produtos serão vistos ou usados pelas pessoas. Mas é uma tentativa, uma sugestão. Com relação às inspirações, acho que várias, né? Não pensando em estilo específico, mas do design em geral. Internacionalmente falando, sempre gostei bastante do trabalho dos Bouroullec, acho realmente inspirador. Gosto também do trabalho do Stefan Diez. Nesse caso, acho que são dois escritórios europeus que têm um trabalho muito interessante com a indústria, com questões de inovação tecnológica, que eu admiro bastante.
Por outro lado, existem escritórios como o Forma Fantasma, que trazem bastante experimentação ao trabalho, vários questionamentos, críticas, inclusive, sobre questões de preservação ambiental e de patrimônio cultural. Mas perceba que estou aqui, contaminado, falando de Europa. O exercício é tentarmos sair um pouco disso. O design está sendo feito no mundo todo, em outros continentes. Há muitos designers sul-americanos, africanos, asiáticos fazendo projetos de muitíssima qualidade. E precisamos olhar para esses lugares e valorizar esses profissionais. É uma luta importante para o campo. Necessária. No Brasil, tenho muita admiração pelo trabalho do Carlos Motta, que desde o início da sua carreira vem utilizando madeiras de redescobrimento e combatendo o uso irresponsável dessa matéria-prima. Acho realmente muito inspirador, um designer que deveria servir de exemplo para todos.
DECOR – No âmbito acadêmico, você pôde experimentar duas realidades diferentes do design de produto: a brasileira, na UFPR, e a italiana, no Politécnico de Milão – POLIMI. Qual a importância de ter experienciado a capital do design em plena formação? E se você eventualmente abrir mercado para o mundo, qual brasilidade particular acha que está em falta no mercado internacional?
KAMPA – Na verdade, a minha experiência com a Itália e com a POLIMI é bem pouco tradicional. Consegui uma bolsa da CAPES para estudar em Milão em um momento em que estava em crise com a minha formação. Eu vi nessa viagem uma oportunidade de conhecer outra cultura, de tentar me encontrar, de fazer as pazes com o design de produtos. Quando cheguei em Milão, experimentei muitas coisas. Uma delas, por exemplo, foi começar a fazer street art, algo que tenho muita conexão, que me identifico verdadeiramente. Curiosamente, comecei a produzir essas artes nos muros próximos à POLIMI, usando o design como temática. Fazia paródias com objetos consagrados do design, como o espremedor de frutas do Starck, cadeiras dos Campana, etc. E o resultado é que vários estudantes do design da POLIMI passaram a tirar fotos posando na frente desses muros. Uma forma que encontrei de criar conexão com aqueles estudantes através da cidade. Mas dentro da POLIMI, estudei iluminação, serviços, fotografia.
Não fiz absolutamente nada ligado à produção de mobiliário e objetos em geral (que é o que eu faço hoje). E isso foi da maior importância pra mim. Quando voltei, aqueles novos ares que respirei, todas as experimentações que fiz, me instigaram enormemente. Meu TCC foi um mobiliário, mas bem experimental, fruto de tudo que vivenciei naquele um ano. A partir daí, fiz as pazes com o design de produtos e peguei amor pelos objetos, pelos móveis, luminárias, etc. Foi sim, uma experiência de grande impacto e com grande importância para minha trajetória como designer. Com relação a essa coisa da “brasilidade”, é um assunto complexo. Como já mencionei há pouco, a própria brasilidade é algo que historicamente está muito relacionada às concepções técnicas e formais dos objetos, e também à uma narrativa que envolve o uso da madeira. São concepções de brasilidade nascidas com o modernismo brasileiro, que imperam até hoje. Acho que o primeiro passo é questionar esses manuais, desconstruí-los, olhar para o Brasil com outras perspectivas.
Na minha opinião, a visão de Brasil que costuma ser exportada através do design ainda é muito específica e muito atrelada a uma concepção de brasilidade elitista. Com absoluta certeza, eu não sei te dar uma resposta. O Brasil é muito mais do que o circuito Rio-São Paulo. Seu cerne é periférico, caminha pelas bordas. Acredito que a brasilidade está muito mais naquilo que é popular, do que nesse mobiliário de alto custo e excludente que o design brasileiro tem, desde os modernistas, se concentrado a fazer (no qual meu próprio trabalho se insere). Acredito que é essa essência popular que precisa atravessar as fronteiras, se quisermos apresentar um Brasil genuíno lá fora.
DECOR – Alguns dos seus trabalhos, como a cadeira Sumi, chamam a atenção para detalhes que vão além da visualização final. Em geral, são modulares, desmontáveis e, logo, são entregues em uma embalagem que otimiza o transporte. E a ausência de solda preserva a saúde do produtor, sua própria saúde. Indiretamente, esses detalhes apontam soluções para problemas que todos nós vivemos atualmente e questões que pouca gente se dá conta. Você acha que esses detalhes podem se tornar tendência?
KAMPA – Não sei se isso pode ou não virar uma tendência. Acho, inclusive, que a ideia de tendência é um pouco perigosa, porque aponta para um caminho onde as coisas são aderidas, ganham espaço por conta dos modismos, por conta daquilo que “agora é cool de se fazer”. Para mim, parece perigoso porque não é uma maneira de se fazer as coisas com responsabilidade genuína, na tentativa de uma melhoria na cadeia produtiva e no consumo dos usuários, mas sim porque aquela ideia está em alta. E amanhã ela pode não estar mais. Então algo relevante pode sair de cena simplesmente porque as tendências mudaram.
Acho que boas ideias, que impactem de maneira positiva a cadeia produtiva, os usuários e o meio ambiente, devem tornar-se questões de consciência, primordiais e sem volta. Sem espaço para retrocesso. Quando penso em soluções como da cadeira Sumi, que são pequeninas questões de melhoria pensando em produção e transporte, penso que essa é uma maneira de inspirar e instigar outros designers a dar continuidade a esse trabalho, pensar de modo semelhante. E muitas vezes, se dar conta desses pequenos problemas está intimamente relacionado à vivência, a estar próximo da realidade de quem produz, de como funciona toda essa cadeia. De entender o trabalho de quem faz, de quem transporta, de pensar no custo do consumidor que paga pra ter aquele produto em casa.
Meu pai é torneiro mecânico. Uma pessoa simples, sempre trabalhou com solda e outros processos que, quando você vivencia, percebe os perigos e o quanto fazem mal para a saúde. Quando olhei para o mercado de mobiliário brasileiro (e também internacional), percebi que quase todos os móveis feitos com tubos metálicos, são produzidos com solda. Em parte, por conta do custo ser mais baixo, também por comodidade. Mas será que essa é a melhor solução de projeto? A partir daí, tomei essa decisão de trabalhar sem solda (o máximo que eu conseguir). Tanto é que, não apenas a Sumi, mas todos os meus produtos não são feitos com solda, salvo algum mínimo detalhe ou outro. A mesa Eclipse parte do mesmo princípio, toda desmontável, feita com encaixes, roscas e parafusos. E gosto da experiência que isso oferece ao cliente, de montar as peças, de ver o assento de uma cadeira de baixo, se ater a detalhes que, quando recebemos tudo montado, não nos atemos.